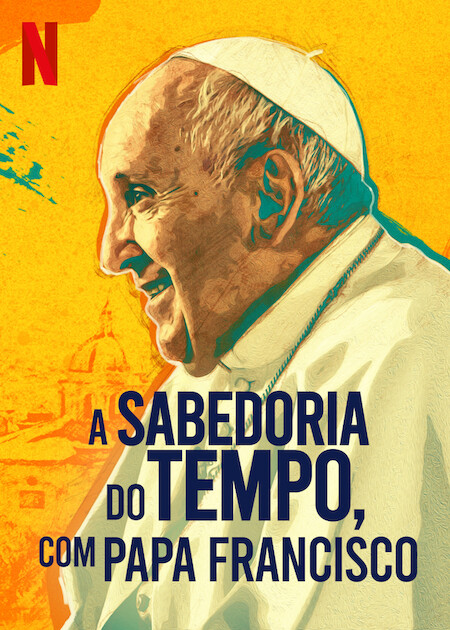Em torno desta pergunta se poderia desenvolver uma cosmovisão escatológico-cultural da destinação individual e universal dos humanos. Mas não, essencialmente. Esta pergunta é a poderosa parábola fílmica de Nadine Labaki, realizadora do notável filme Caramel. E agora, onde vamos? (em DVD, 2012) é irónico, quiçá, grávido de gravidade, sobretudo. Será pensável e vivível um diálogo inter-religioso e humano autêntico capaz de penetrar na intimidade existencial dos credos e confissões segundo a visão do sorriso de Deus? Mais do que possamos imaginar, Deus também se compraz: “eu estava com Ele como artífice e era a Sua delícia todos os dias, brincava diante d’Ele em cada instante, brincava na redondeza da terra e colocando as minhas delícias entre os filhos dos homens" (Pro 8, 30-31). É igualmente conhecido o dito do místico Mestre Eckhart: ‘O Pai ri para o Filho e o Filho ri para o Pai, e o riso gera prazer, e o prazer gera alegria, e a alegria gera amor’. Este filme gera prazer e gravidade risível! Já nas antigas Escrituras a sensualidade feminina interpreta a sensibilidade de Deus, como Sara, a estéril: "Deus me fez rir e todos os que o souberem rirão comigo" (Gn 21, 6). Todavia, paradoxalmente, o que impedia o riso pleno de Sara era o medo da promessa generativa (cfr. Gn 18, 15).
Labaki narra a história de uma comunidade libanesa, onde cristãos e muçulmanos convivem fraternalmente, onde a vida “está cheia do dom original” (Vergílio Ferreira). O lugar é ladeado por enormes montanhas, está repleto de minas terrestres e tem apenas uma ponte que liga a aldeia a outras regiões do país. O lugar psíquico parece não coincidir com o lugar físico. Paulatinamente começa-se a sentir uma tensão latente nos comportamentos, sobretudo dos homens. A amizade estável entre comunidades religiosas diversas unidas na fé ao Deus único parece ser frágil. A aldeia tem a sua hierarquia (lei: representante político e dois religiosos) com um código moral comunitário delimitado que permite controlar os instintos pulsionais humanos. Mas será a refinadíssima sensibilidade feminina a controlar esses impulsos. Uma sensibilidade manifestada na compaixão, no luto, na presença qualificante, na maternidade levada ao máximo sacrifício de si em favor da família e da comunidade. As tonalidades da voz e da cores (do negro enlutado ao claro risível) não meros efeitos visivos mas expressão dos afetos corpóreos, sentidos densamente na experiência do realteo-antropodramático. Só a sensualidade feminina na sua pura verdade o poderia expressar assim desse modo.
Na aldeia há um rádio e uma televisão pública que congrega a comunidade em serões noturnos agradáveis. Um ato expressivo de comunhão, onde a crise produz partilha invés de egoísmo. Mas há sempre efeitos colaterais que se produzem e que são externos a esse estado de paz. O desejo não é suscitado dentro da comunidade mas vem de fora, criando instabilidade na comunidade. Esse desejo é suscitado pela tecnologia, neste caso a televisão, que dá a ver a violência nascente noutras regiões do país. Este elemento outrora estranho à comunidade espalha o rumor de lutas sectárias e religiosas. Perante esta constatação, as mulheres da aldeia, porque sabem o que significa perder os maridos e filhos na guerra e em lutas tribais, acionam subtilmente toda a sua ironia para evitar a desagregação comunitária (desde seduzir os seus maridos com mulheres ocidentais belas ao jantar com “estupefacientes” acompanhado de um bom vinho). Nesta aliança feminina (garantes da geração vital e moral) em prol da dignidade humana estão também envolvidos o Imã e o padre (garantes da sensibilidade espiritual), eloquentemente refigurados no filme, e sem os clichés típicos do preconceito iluminista. As mulheres desta aldeia libanesa tudo farão para evitar que a irracionalidade e o falso sentimentalismo religioso se apodere cegamente dos homens. A ironia fina mistura-se com o pathos do espaço e do tempo, a tragicidade da vida com a redenção, o amor vivido com a reivindicação pulsional de direitos e deveres de exclusividade. Esta refinada ironia traz-nos à memória a sabedoria irónica do livro dos Provérbios: “três coisas fazem tremer a terra, e uma quarta que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei e um insensato que se farta de pão, uma mulher desprezada que se casa e uma serva que assume o lugar da sua senhora” (Pr 30,21-23). Ou na acutilante perspetiva de C.S. Lewis: “o eros quer corpos nus; a amizade, personalidades nuas” (Os quatro amores).
A sensibilidade de Labaki, cidadã franco-libanesa, soube colher bem o húmus da cultura religiosa cristã e islâmica. Há dois momentos do filme que são de singular particular: a imagem poderosa inicial e final do filme. A primeira com mulheres enlutadas a chorar os maridos e filhos perdidos, não um luto carpidérico, mas de dança, de súplica, de dor interior embalada corporeamente. A segunda – a imagem final – é sublime e imponente. Termina tal como iniciara: no cemitério. Mas agora com a diferença de serem os homens a carregar o caixão do jovem assassinado, seguidos de mulheres em procissão fúnebre. O gesto ritual/celebrativo reconciliatório torna-se visível na sóbria beleza dos ramos de flores em cima das campas. Faz-se presente aqui a imagem do imponente quadro La Mort de Arcabas, em que um discreto pássaro colorido, em cima do túmulo do Ressuscitado, desperta os nossos afetos para o realismo do evento e da sua singularidade existencial. A esta re-con-figuração se poderia aliar a transcendência da visão de J. K. Stefánsson: “Vimos tudo mas ninguém nos viu, estávamos em corpos e ainda assim sem corpo, tínhamos vozes e ainda assim não conseguíamos falar” (Paraíso e Inferno).
Há sem dúvida neste filme uma economia pascal, de corpos trans-figurados, “de quem ama o infinito” (F. Pessoa). De mulheres que vivem apaixonadas pela beleza dos gestos, que geram vida amando, não obstante a “absoluta opacidade da morte” (Vergílio Ferreira). Mulheres que rezam, trabalham, protegem, acarinham e dignificam a vida comunitária, tantas vezes obscurecido pelo exercício ministerial patriarcal absoluto. É nelas que reside a condição de possibilidade da convivência pacífica ou a luta fratricida entre humanos por causa das diferenças religiosas. A figuração simbólica exerce aqui uma presença de primeira linha. Essa figuração permite estabelecer a reconciliação comunitária ou a vingança expiatória mas sem redenção. Figuras simbólicas cuja função será de pacificar os corações exaltados dos homens. A invocação diante da imagem da virgem faz milagres (figura comum a ambos os credos), que chora e diz os pecados de cada um dos homens ali presentes, cristãos e muçulmanos, indica a possibilidade ética do sagrado, que, quando bem-intencionado e além da teatralidade, instaura um modus vivendi segundo a justiça de Deus. Limite este perigoso do religioso já que nem todos estão dispostos a aceitar a manipulação teatral, de algo meramente representativo e figurativo de arquétipos ideais de vida (o caso do diálogo entre a mãe que violentamente perdeu o filho e estabelece um diálogo frio e condenatório com a imagem da virgem).
Esta parábola pascal é muito semelhante à parábola do filme Dos homens e dos deuses, dos monges trapistas mortos na Argélia por fundamentalistas islâmicos. Se Dos homens e dos deuses é uma ceia pascal, liturgia eucarística na sua máxima densidade, de corpos transfigurados no Corpo dado de Cristo, E agora, onde vamos? é a condição de possibilidade de continuar a viver segundo a promessa de que ‘Ele estará connosco até ao fim dos tempos’. A morte não é eliminada mas assumida na sua dramaticidade, na sua evidência fenomenológica ineliminável. Essa é visível no rosto da mãe que abraça o filho morto, qual refiguração quase-perfeita da pietas neotestamentária, ou totalmente perfeita relativamente àpietas de Kim Ki-duk, mas não menos intensa do que o divino canto Stabat Mater de Arvo Pärt. Esta mãe sabe e sente que a vida do filho morto, esse Outro, pode ser fonte de salvação para Todos que ali vivem. E, por isso, esconde, sofrendo visceralmente na incompreensibilidade do mistério (cfr. 2Mac 7, 20-23), a morte do filho para que o luto seja o ato reconciliatório das humanas feridas abertas. Este gesto é um grito de cura contra a violência e a vingança retributiva que não dignifica a memória das vítimas inocentes. Na verdade, só uma mãe poderia cumprir um gesto lacrimal tão humano e tão divino – é acom-paixão!
Ao ver esta parábola não podemos deixar de nos sentir interpelados pelo genocídio e fratricídio da Síria, e de tantos outros lugares do mundo. Da voz universal das vítimas, daqueles e daquelas que em situações de violência e morte são capaz de apelar para a reconciliação das mentes e dos corações. Sem dúvida, este filme, é uma voz profética a gritar o reconhecimento da justiça de Deus como apelo ao mandamento do amor absoluto, da diferença e da liberdade que dignificam o humano-que-é-comum a todos os humanos. Enfim, à possibilidade ét(n)ica do sagrado que as religiões e os crentes são chamados a viver e a explicitar segundo a verdade e a justiça universal de Deus. Escrevia Vergílio Ferreira no seu ensaio Carta ao Futuro: “da fraternidade eles [robôs da loucura] sabem apenas a fácil estratégia das palavras trocadas, dos braços que se apoiam uns nos outros contra o medo. Mas a profunda fraternidade – tu o saberás, meu amigo – não é uma cadeia de braços, mas uma comunhão do silêncio, uma comunhão do sangue”.
João Paulo Costa
In: SNPC 04.11.2013